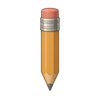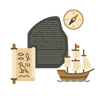A Chave para um Mundo Perdido
O meu nome é Jean-François Champollion, e a minha história começa não com reis ou batalhas, mas com uma paixão que me consumiu desde que era um rapazinho em Figeac, França. Nascido em 1790, cresci numa época de grandes mudanças, mas a minha mente estava fixada num lugar distante e antigo: o Egito. Enquanto outras crianças brincavam, eu devorava livros. Tinha um talento para as línguas; antes de ser adolescente, já tinha aprendido latim, grego e hebraico. Mas nenhuma delas me fascinava tanto como a escrita silenciosa do Egito. Lembro-me vividamente da primeira vez que o meu irmão mais velho, Jacques-Joseph, que sempre me apoiou, me mostrou imagens de artefactos egípcios trazidos de volta para França. Vi os obeliscos, os sarcófagos e, o mais cativante de tudo, os hieróglifos. Eram pequenos desenhos — pássaros, olhos, leões, formas geométricas — dispostos em linhas perfeitas. Eram belos, mas completamente silenciosos. Ninguém no mundo sabia o que significavam. Eram um código que guardava os segredos de toda uma civilização. Naquele dia, enquanto olhava para aquelas imagens, fiz uma promessa a mim mesmo e ao meu irmão. A minha voz era pouco mais que um sussurro, mas a minha determinação era forte como pedra. "Um dia", disse eu, "eu serei aquele que os vai ler". Mal sabia eu que uma descoberta a milhares de quilómetros de distância me daria a chave para cumprir essa promessa.
O mundo estava em alvoroço por causa das campanhas militares de Napoleão Bonaparte. Em 1798, ele levou o seu exército para o Egito, não apenas para conquistar, mas também para estudar. Com ele foram dezenas de académicos, artistas e cientistas para documentar as maravilhas antigas do país. Foi durante esta expedição que a notícia de uma descoberta extraordinária chegou à Europa, uma notícia que mudaria a minha vida para sempre. A 15 de julho de 1799, um soldado francês chamado Pierre-François Bouchard estava a supervisionar reparações num forte perto de uma cidade portuária chamada Rosetta, ou Rashid, como os locais lhe chamavam. A sua equipa estava a demolir uma parede antiga quando encontraram uma laje de pedra escura e partida. Não era uma pedra qualquer. Estava coberta de inscrições. Quando estudei mais tarde as cópias e os moldes que chegaram a Paris, o meu coração acelerou. A pedra tinha três tipos diferentes de escrita gravados na sua superfície. No topo estavam os hieróglifos pictóricos que eu tanto amava. No meio, havia um tipo de escrita cursiva e fluida que os académicos chamavam de Demótico, a escrita do povo comum do Egito antigo. E na parte inferior, estava a chave de tudo: um texto em grego antigo. O grego era uma língua que muitos de nós podíamos ler! A excitação entre os estudiosos era palpável. A lógica era simples, mas profunda: se a mesma mensagem estivesse escrita nas três línguas, então o texto grego poderia ser usado para decifrar os outros dois. A Pedra de Roseta não era apenas uma relíquia; era um dicionário antigo, uma ponte através de milénios de silêncio.
Durante mais de vinte anos, a Pedra de Roseta permaneceu um quebra-cabeças. A corrida para decifrar o seu código era intensa, um desafio intelectual que atraiu as mentes mais brilhantes da Europa. Eu dediquei a minha vida a esta tarefa. Passava dias e noites debruçado sobre cópias das inscrições, comparando os símbolos, preenchendo cadernos com teorias e becos sem saída. O meu principal rival nesta grande corrida era um erudito inglês incrivelmente inteligente chamado Thomas Young. Ele fez alguns progressos importantes, percebendo que alguns hieróglifos representavam sons, especialmente dentro de uns anéis ovais a que chamamos cartelas. Ele suspeitava corretamente que essas cartelas continham nomes de governantes estrangeiros. No entanto, ele acreditava que este uso fonético era uma exceção, não a regra. Eu tinha uma abordagem diferente. Mergulhei no estudo da língua copta, a língua litúrgica dos cristãos egípcios, que eu acreditava ser descendente direta da língua dos faraós. Eu suspeitava que o copta continha os sons do Egito antigo. A minha grande descoberta veio ao comparar as cartelas com os nomes dos governantes 'Ptolomeu' e 'Cleópatra', conhecidos do texto grego. Ao identificar os símbolos fonéticos que compunham os seus nomes, comecei a construir um alfabeto. O momento da verdade chegou a 14 de setembro de 1822. Eu estava a estudar outra inscrição e vi uma cartela com símbolos que eu reconheci. Soletrei os sons: R-A, M-S-S. Ramessés. O nome de um dos maiores faraós do Egito. Não era um nome grego; era puramente egípcio. De repente, tudo fez sentido. Os hieróglifos não eram apenas símbolos ou apenas sons — eram uma mistura engenhosa dos dois. Corri para o escritório do meu irmão, completamente dominado pela emoção. "Je tiens l'affaire!" gritei — "Consegui!". E depois, o peso de anos de trabalho incansável apoderou-se de mim e desmaiei, exausto mas triunfante.
A minha descoberta não foi apenas sobre decifrar um código antigo; foi sobre devolver uma voz a um povo. Durante mais de 1.400 anos, o Egito antigo esteve em silêncio. As suas grandiosas pirâmides, templos e túmulos estavam cheios de histórias, mas ninguém as conseguia ler. A Pedra de Roseta foi a chave que abriu essa porta. De repente, podíamos ler os nomes dos faraós nas paredes dos seus túmulos. Podíamos compreender as suas leis, os seus poemas de amor e as suas crenças sobre a vida após a morte. Uma civilização inteira, antes conhecida apenas através dos escritos de viajantes gregos e romanos, podia agora falar por si mesma. O meu trabalho permitiu que gerações de egiptólogos continuassem a desvendar os mistérios do passado, lendo papiros e monumentos que antes eram incompreensíveis. A promessa que fiz a mim mesmo quando era rapaz foi cumprida. A minha jornada ensinou-me que a curiosidade é uma força poderosa e que a perseverança pode quebrar até os códigos mais difíceis. Compreender o nosso passado partilhado não é apenas um exercício académico; é uma forma de nos ligarmos à longa e fascinante história da humanidade e de nos inspirarmos nas suas conquistas para construir um futuro melhor.
Atividades
Fazer um Quiz
Teste o que você aprendeu com um quiz divertido!
Seja criativo com as cores!
Imprima uma página de livro de colorir sobre este tópico.